O direito e a filosofia da privacidade: entrevista com Anita L. Allen
Em 2020 o Data Privacy Brasil teve o privilégio de entrevistar a Dra. Anita Allen, professora da Universidade da Pensilvânia. Filósofa pioneira na intersecção de feminismo e privacidade, é uma das personalidades de maior destaque no campo da proteção de dados.
Anita L. Allen é uma das pensadoras contemporâneas mais importantes para o campo da privacidade e proteção de dados pessoais. Com formação em Filosofia e em Direito, protagonizou a criação das subdisciplinas Filosofia da Privacidade e Direito da Privacidade durante a década de 80 nos Estados Unidos.
Atualmente é Vice Provost for Faculty (um título estadunidense para uma espécie de vice-presidência em assuntos acadêmicos de uma universidade), além de Henry R. Silverman Professor of Law and Professor of Philosophy (um título honorífico de professora de direito e de filosofia) da Universidade da Pensilvânia. É internacionalmente reconhecida por suas contribuições sobre filosofia e direito da privacidade e proteção de dados pessoais, ética, bioética, filosofia do direito, teoria feminista do direito e relações raciais.
Sua trajetória acadêmica teve início na Filosofia. Obteve seu título de doutora na Universidade de Michigan em 1979, sendo uma das primeiras mulheres negras a consegui-lo, ao lado de outras importantes figuras como Joyce Mitchell Cook, LaVerne Shelton, Adrian Piper e Angela Davis. Filósofa feminista liberal de tradição analítica, Anita Allen se interessava por epistemologia, metafísica, metaética e ética prática.
Contudo, a realidade excludente e inóspita da comunidade acadêmica estadunidense na filosofia, masculina e branca e extremamente marcada por sexismo e racismo, bem como o caráter insulado e engessado da metodologia do campo, muito limitada e distante das ferramentas de mudança social, e as escassas oportunidades de progressão de carreira fez com que Allen buscasse o Direito para florescer.
Em 1981 foi admitida na Harvard Law School, em Massachusetts – uma das faculdades de direito mais prestigiadas do mundo. Lá trabalhou como assistente acadêmica de grandes nomes da filosofia contemporânea: Michael Sandel, Ronald Dworkin, Robert Nozick, Sissela Bok e Charles Fried. Concluiu o curso em 1984, sendo a primeira mulher negra estadunidense doutora em ambas as áreas de filosofia e direito.
No campo do direito, encontrou espaço, diálogo e estímulo para explorar seu interesse acadêmico por questões de privacidade, que cultivava desde a graduação em filosofia. Bebendo de fontes como a filósofa Ruth Gavison e seu artigo de 1980 “Privacy and the Limits of Law” (em tradução livre, Privacidade e os limites do Direito), o sociólogo Alan Westin e sua obra “Privacy and Freedom” (em português, Privacidade e Liberdade) de 1967, a literatura feminista dos anos 60 a 80 que criticava a separação público-privado, e um pequeno grupo de filósofos analíticos dos anos 70 que publicaram artigos sobre privacidade na revista acadêmica Philosophy and Public Affairs (em tradução livre, Filosofia e Assuntos Públicos), Anita Allen une as ferramentas da Filosofia e do Direito e publica, em 1988, o primeiro livro escrito por alguém da filosofia sobre privacidade, Uneasy Access: Privacy for Women in a Free Society.
O livro inaugura o caminho vislumbrado por Anita Allen: a Filosofia da Privacidade e o Direito da Privacidade, subdisciplinas dedicadas ao estudo da privacidade como um subcampo de pesquisa próprio, tanto na Filosofia, quanto no Direito, com uma agenda de questões específica sobre o significado, o valor e as implicações éticas, políticas, sociais e jurídicas da privacidade. Nele, Allen aborda criticamente o significado e o valor da privacidade, explorando as desigualdades de gênero presentes nas diversas articulações do termo, muito utilizado para subordinar as mulheres e encobrir situações de abuso. Discute questões como liberdades reprodutivas, assédio sexual, estupro, encarceramento e prostituição, trazendo também um conjunto de casos jurídicos nesse sentido. Para proteger as mulheres, Allen argumenta por uma concepção mais abrangente de privacidade e por mudanças jurídicas para promover a equidade política entre os gêneros.
Em 2003, Allen explorou a relação entre privacidade e accountability (prestação de contas e responsabilidade) quanto a assuntos pessoais, em seu livro Why Privacy Isn’t Everything: Feminist Reflections on Personal Accountability. A autora defende que ambos – e não só a privacidade – seriam valores cruciais para a participação social. Ressalta que condutas individuais têm implicações não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade, de modo que, em certas circunstâncias, a prestação de contas sobre assuntos pessoais seria não uma violação da privacidade, mas, sim, reivindicação legítima e justificável.
Em 2011, em seu livro Unpopular Privacy: What Must We Hide, Allen defendeu a importância da privacidade enquanto valor moral em face da “era da revelação” em que vivemos. Com o avanço das tecnologias de comunicação, o compartilhamento e a divulgação voluntária de informações pessoais teria se tornado rotineira – mas não menos perigosa. Partindo de uma vista liberal e feminista, argumenta que a privacidade é um bem fundacional da sociedade e que o compromisso com a liberdade individual também implica a imposição da privacidade como uma obrigação. Em diálogo com seus argumentos filosóficos, traz uma série de legislações e jurisprudência que proíbem a divulgação de informações pessoais próprias e/ou de terceiros para proteger a dignidade, a confiança e a reputação das pessoas.
Além desses livros (e dos inúmeros artigos acadêmicos) em que explora a relação entre privacidade, ética e sociedade, Allen também escreveu os primeiros – e, até hoje, os mais completos – manuais de Direito da Privacidade: Privacy Law: Cases and Materials (1999, 2002 e 2004), escrito em coautoria com Richard Turkington, e Privacy Law and Society (2008, 2011 e 2016), sendo a edição mais recente em coautoria com Marc Rotenberg.
A entrevista transcrita e traduzida abaixo foi realizada em 10 de novembro de 2020, por videochamada, e conduzida por Aline Herscovici, Bruno Bioni, Gabriela Vergili, Julia Mendonça, Marina Kitayama e Rafael Zanatta. Abordou-se, em especial, a trajetória e o trabalho de Anita Allen, bem como sua posição diante de alguns dos eventos recentes mais marcantes para as discussões de privacidade e proteção de dados pessoais, como as revelações de Snowden e o movimento Black Lives Matter. As perguntas exploraram as relações entre privacidade e ética, dignidade, prudência, vigilância, desigualdades e prestação de contas (accountability). As notas de rodapé foram complementadas pelo esforço de pesquisa de Aline Herscovici, que integrou a equipe da Data Privacy Brasil entre 2020 e 2021.
Rafael Zanatta (Data Privacy Brasil): Para iniciar nossa conversa, gostaríamos de saber mais sobre a sua trajetória. Onde você cresceu? E o que fez você trilhar o caminho da Filosofia e, mais tarde, do Direito?
Anita Allen: Eu sou uma das seis crianças que meus pais tiveram. Meu pai foi um oficial militar não-comissionado durante 25 anos, servindo tanto na Guerra da Coreia, quanto na Guerra do Vietnã. Eu cresci vivendo principalmente em ou perto de sete bases militares nos Estados Unidos, incluindo o Havaí, o que significa que, em uma época de segregação racial, eu vivi em um mundo racialmente integrado. Tive a vantagem de uma criação mais multicultural e internacional do que as crianças estadunidenses convencionais.
Eu era uma leitora voraz quando criança. Amava bibliotecas. Me interessei por Filosofia na adolescência. No início, especialmente, li filosofia francesa e alemã traduzidas ao inglês (Sartre, Camus, Kierkegaard), até descobrir a filosofia estadunidense e a inglesa (Russell, Dewey, teologia radical). Trouxe comigo o interesse pela Filosofia à faculdade, ao lado do meu interesse em poesia, literatura e medicina. Minha família torcia para que eu me tornasse médica, mas a Filosofia acabou ganhando.
Obtive meu título de doutora em Filosofia (PhD) na Universidade de Michigan, uma renomada universidade pública de grande porte na cidade de Ann Arbor. Depois disso eu comecei a dar aulas de Filosofia. E foi aí que minha história de vida começou a ficar um pouco mais interessante. As pessoas costumam perguntar “como você foi da Filosofia para o Direito?”. Eu descobri a área de direito constitucional da privacidade ainda na graduação em Filosofia, enquanto escrevia minha dissertação em teoria analítica moral e política sob orientação de Richard Brandt. E quando eu fui dar aulas de Filosofia na Universidade Carnegie Mellon, me vi frustrada com a completa ausência de atenção, na filosofia tradicional, às questões jurídicas e a seus detalhes.
Eu também sentia que a Filosofia era uma “torre de marfim”, uma disciplina muito insulada; e se eu quisesse ser útil e ter uma carreira de impacto, então talvez eu devesse ir para o Direito. Eu achava que eu podia me tornar uma juíza ou atuar em tempo integral como advogada ou, melhor, combinar de alguma forma a academia com a advocacia. Eu acabei indo à faculdade de direito de Harvard em 1981 e saindo com um título de doutora em Direito (JD). Eu advoguei por um curto período em um grande escritório de advocacia em Nova York chamado Cravath, Swaine & Moore. Depois voltei a dar aulas na universidade, onde eu estive nos últimos 35 anos.
Rafael Zanatta (Data Privacy Brasil): Você mencionou que se interessava por filosofia inglesa, filosofia analítica, e que estudou com Richard Brandt, seu orientador na universidade. Qual foi o motivo de você o ter escolhido como orientador? Até então você estava bem focada em filosofia moral, correto?
Anita Allen: Para ser sincera, Brandt não foi minha primeira escolha. Minha primeira escolha teria sido uma mentora mulher, a professora Holly Smith Goldman; mas a ela foi negada estabilidade (tenure) justo quando eu estava prestes a começar minha dissertação.
Holly e seu marido, Alvin Goldman, deixaram a universidade. Não havia nenhuma outra mulher no corpo docente, então eu tive de escolher entre os demais docentes homens. Eu abandonei minha segunda escolha de orientação depois de um episódio de assédio sexual. Richard Brandt foi a minha terceira escolha, a mais proeminente das três. Ele era um homem franco e amigável, uma figura, digamos. Ele me provocou a criticar o utilitarismo, que era sua filosofia ética favorita, e ele também me incentivou a ler mais amplamente sobre filosofia analítica, política e ética. A meu benefício, segui seu conselho.
Não me sentia naturalmente interessada por essa literatura, mas ele mais ou menos insistiu para que eu expandisse meu escopo de leitura, como uma base para completar minha dissertação. Com o tempo nos tornamos amigos.
Gabriela Vergili (Data Privacy Brasil): Você se engajou em algum movimento feminista no início da década de 1980? Se sim, isso mudou a perspectiva da sua produção acadêmica?
Anita Allen: Sim e sim. Eu devo muito às filósofas feministas brancas nos Estados Unidos. Depois de eu obter meu título de doutora em filosofia elas foram uma das primeiras acadêmicas a me incluir em suas conferências e projetos de livro. E me incentivaram a escrever sobre temas de interesse, incluindo o de privacidade.
A professora Carol Gould me incentivou a escrever um capítulo para o livro dela, Beyond Domination, e a editora do livro dela gostou tanto do meu capítulo que me convidou a escrever meu próprio livro sobre o assunto do capítulo que escrevi no livro dela. O capítulo que gostaram era sobre a relação entre a privacidade das mulheres e os direitos das crianças, focando na área de escolha reprodutiva (aborto, em especial). Então eu decidi escrever um livro sobre a privacidade das mulheres e esse foi de fato o início da minha longa carreira como uma acadêmica especializada em privacidade – o livro, Uneasy Access: Privacy for Women in a Free Society, foi publicado em 1988.
O livro interessa pessoas que não se interessam por gênero, porque seus dois primeiros capítulos tratam exclusivamente sobre o significado e a definição de privacidade em abstrato. Mas também conta com capítulos que se relacionam diretamente com os feminismos e questões das mulheres. Em especial, com o aborto e o controle de natalidade, o trabalho sexual (ou prostituição, como dizem alguns), e o assédio sexual. Meu interesse pelo feminismo e pela privacidade das mulheres não se restringia à produção acadêmica. No início da década de 1990, eu me envolvi com a Planned Parenthood, que é uma grande organização de saúde reprodutiva sediada nos Estados Unidos. Eu me tornei presidente do conselho da unidade da Planned Parenthood relativa à área metropolitana de Washington. Tínhamos seis clínicas, por meio das quais prestamos cuidados relacionados a contracepção, infecções sexualmente transmissíveis e aborto. Também estive brevemente no conselho nacional da Federação Planned Parenthood, localizada em Nova York. Ao longo dos anos atuei, por meio de diversas organizações, em muitas atividades feministas relacionadas à saúde das mulheres, a mulheres na educação superior e a mulheres no direito.
Atualmente [2020], minha atuação no terceiro setor se concentra mais em privacidade e direito do que em questões das mulheres em si. Sou a atual presidente do conselho da organização Electronic Privacy Information Center, em Washington, D.C. (EPIC, sigla pela qual é conhecida). Vocês já devem ter ouvido falar no Marc Rotenberg, que foi diretor da organização por muitos anos e um de seus fundadores. A organização é ao mesmo tempo um grupo de reflexão (think tank) e uma organização de defesa de causa (advocacy) e educação. A EPIC tem feito um trabalho excelente e é uma voz em defesa da privacidade e proteção de dados. Pressiona por legislação e práticas do setor privado que respeitem a privacidade enquanto um direito humano fundamental.
Aline Herscovici (Data Privacy Brasil): Nosso próximo conjunto de perguntas diz respeito à sua produção acadêmica e ao seu posicionamento sobre alguns dos eventos recentes. Para começar, temos uma pergunta que, sabemos, é muito complexa para ser respondida em um tempo tão curto como este. Mas porque é de extrema importância, sentimos que era necessária de se fazer: Como você define a privacidade considerando as desigualdades estruturais na sociedade?
Anita Allen: De fato é uma pergunta complexa. Em 1890, os advogados estadunidenses Samuel Warren e Louis Brandeis definiram privacidade como “ser deixado só”. Na década de 1970, o sociólogo Alan Westin popularizou a ideia de que privacidade significa controle sobre a informação. Nos anos 1970 e 1980 vimos definições de privacidade como “restrições ao acesso à informação ou a pessoas” ou “inacessibilidade”.
A professora israelense Ruth Gavison foi uma influente expoente da teoria da privacidade como acesso restrito. Ela teve um grande impacto sobre mim e me influenciou a adotar, no início da minha produção acadêmica, a definição de privacidade como acesso restrito. No fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, a definição de privacidade como “integridade contextual” criada por Helen Nissenbaum se tornou popular.
Hoje, as pessoas na Europa e nos EUA estão falando sobre “confiança” como parte justamente do que entendemos por privacidade. Mas sob nenhuma definição de privacidade as pessoas que são pobres, oprimidas, dominadas e desprezadas têm a capacidade de obter e gozar consistentemente dos benefícios da privacidade. Espaços considerados privados, como a casa, não são privados para aqueles cuja casa é uma tenda embaixo da ponte ou um conjunto habitacional permeado por câmeras de vigilância, ou se o governo reserva o direito de entrar nos apartamentos dos inquilinos a qualquer momento para verificar se estes têm um namorado não autorizado nas instalações. Caracterizar a casa como privada por definição nos cega para as disparidades sistêmicas quanto a quem é que pode experienciar privacidade onde mora. A crítica da privacidade da casa tem raízes no século XIX.
E.L. Godkin e a feminista Charlotte Perkins Gilman (Gilman escreveu um livro chamado Women and Economics em 1898) reconheceram que a privacidade na casa depende do tipo e do arranjo socioeconômico do lar. Descrevendo lares de classe média-alta, Gilman destacou que a típica vida das mulheres não lhes dá oportunidades para privacidade. Há trabalhadores e comerciantes constantemente entrando na casa; as crianças têm que ser cuidadas dia e noite; e o bric-a-brac requer limpeza e atenção.
Uma mulher não terá tempo para o descanso mental e a paz essenciais para o que se entende por privacidade em casa. Devido às disparidades de raça, classe, gênero e orientação sexual, a capacidade de desfrutar e obter privacidade em estados vigilantes, panópticos e racistas não é distribuída igualmente. O contínuo debate sobre como definir privacidade deveria ser unido aos debates práticos subjacentes sobre justiça e injustiça, equidade e inclusão. O debate sem essa junção acabou me deixando exausta e eu então me afastei dele.
Nós acadêmicas devemos querer saber como falar sobre privacidade com rigor, mas devemos reconhecer que todo o rigor do mundo não fará com que aquelas pessoas que são vítimas especiais de vigilância ou interferência tenham uma vida melhor. Privacidade deve significar que a polícia não pode entrar na casa de uma pessoa inocente no meio da noite sem avisar, procurando por provas de crimes envolvendo drogas e atirar nela, matando-a. Ou que não pode manter uma pessoa na prisão por vários dias com base em uma tecnologia de reconhecimento facial falha, que aponta falsas correspondências.
Marina Kitayama (Data Privacy Brasil): O que significa dizer que nós temos um dever ético de proteger nossa própria privacidade? O controle sobre os dados pessoais é essencial para o cumprimento desse dever?
Anita Allen: Eu acredito fortemente que as pessoas têm uma obrigação – e eu classificaria essa obrigação como moral ou ética – de não só respeito à privacidade dos outros, algo que tem sido um consenso já há décadas, mas também de proteger sua própria privacidade.
A ideia de que nós temos uma obrigação de natureza ética de proteger nossa própria privacidade é uma ideia mais recente, uma que eu ajudei a popularizar nos Estados Unidos por meio dos meus escritos. Meu foco na autoproteção foi uma consequência de certos movimentos da cultura popular. Primeiro, havia um forte movimento nos anos 90 nos Estados Unidos em direção a uma forma de entretenimento popular: os programas de televisão baseados na vida real (reality television). As pessoas estavam indo à televisão e revelando os detalhes de suas vidas pessoais de maneira sensacionalista como uma forma de entretenimento. Falavam sobre seus divórcios, seus problemas familiares, suas doenças mentais e vícios, seus crimes e tudo o mais. Havia um lado bom em libertar as pessoas a falarem abertamente sobre seus problemas, mas o lado ruim era a aparente negligência das virtudes de reserva e respeito próprio.
Ao mesmo tempo em que a telerrealidade se estabeleceu, a internet estava decolando. As pessoas estavam vivendo suas vidas abertamente na web: tendo bebês na web, fazendo cirurgias na web, fazendo sexo na web. Havia mulheres ganhando muito dinheiro por terem webcams apontadas para elas 24 horas por dia para que voyeurs pudessem olhar elas indo ao banheiro, masturbando-se, dormindo, tendo encontros ou o que for. Esses fenômenos da cultura popular eram muito interessantes para mim, bem como o mundo das mídias sociais, que se deu com MySpace e Facebook.
Celulares e smartphones nos transformaram em pessoas viciadas em comunicação e compartilhamento. As pessoas têm passado a abrir mão de formas tradicionais de privacidade geográfica, privacidade informacional e até privacidade física na esperança de ganharem amizades mais próximas, de estar em contato com seus amigos e familiares, e assim por diante. Então eu comecei a perguntar a seguinte questão: nós temos alguma obrigação de proteger nossa própria privacidade?
Havia uma forte corrente filosófica libertária que dizia “de jeito nenhum; privacidade é uma escolha e você pode escolher o máximo ou o mínimo de privacidade que quiser”. “Se as pessoas escolhem jogar fora sua privacidade, isso é problema delas, é uma prerrogativa de que dispõem e não tem o que ser discutido”, diz a posição libertária sobre privacidade. Mas isso me parece ser a maneira errada de pensar sobre a questão fundamental em jogo.
A privacidade seria mesmo um bem do tipo “pegar ou largar” como sorvete ou carros de corrida? Eu acredito que privacidade não é como sorvete nem como carros de corrida; privacidade é algo muito especial que vai ao âmago da liberdade e dignidade humana. Então eu comecei a construir uma defesa moral da privacidade e argumentar que deveríamos estar abertos a leis de privacidade que, até certo ponto, impõem privacidade.
As proibições na União Europeia de as pessoas poderem renunciar voluntariamente a certos tipos de proteção de dados seriam um exemplo do governo impondo privacidade. A não ser no que diz respeito às crianças, temos muito pouca privacidade compulsória nos Estados Unidos. (Embora eu argumente no meu livro Unpopular Privacy que as regras de sigilo profissional representam amplas áreas de privacidade forçada). Deveríamos saudar governos impondo privacidade porque temos uma obrigação de proteger nossa privacidade e não podemos fazer isso sozinhas diante de um limitado poder de barganha e assimetrias informacionais.
É claro que existem certas coisas que podemos fazer sem privacidade compulsória. Nós podemos limitar o tempo que passamos nas nossas redes sociais e o que compartilhamos. Alguns compartilhamentos não só são perigosos, como também violam o respeito próprio e as virtudes de modéstia e reserva. Eu sou uma filósofa mais da ética prática do que da metaética ou da ética normativa, então eu não prescrevo teorias éticas. Mas eu acredito que o argumento para proteger a própria privacidade possa ser defendido com base na teoria deontológica de Kant, na teoria utilitarista influenciada por John Stuart Mill, ou na teoria aretaica [isto é, das virtudes] de Aristóteles.
Em Unpopular Privacy, eu esboço como seria um tal argumento em cada uma dessas tradições, bem como em uma tradição feminista do cuidado, para que as pessoas que queiram fazer um argumento mais profundo a partir de determinada teoria moral tenham alguns dos recursos e pontos de partida para fazê-lo. Mas eu com certeza acredito que as pessoas têm uma obrigação de proteger sua própria privacidade.
Júlia Mendonça (Data Privacy Brasil): Como a privacidade se relaciona com os valores de dignidade e prudência?
Anita Allen: Antes de responder diretamente a essa questão, eu gostaria de voltar um pouco no assunto anterior e frisar que eu reconheço que é muito difícil para as pessoas protegerem sua própria privacidade hoje em dia.
Quando eu comecei a falar sobre isso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu pensava que haviam coisas que todo mundo deveria fazer, como usar encriptação ou optar por não participar (opt out) ou passar menos tempo no computador. Mas com o advento do big data e algoritmos, e à luz do capitalismo de vigilância, é muito mais difícil para os indivíduos protegerem significativamente sua própria privacidade de dados.
Eu ajustei meu posicionamento para dizer que mesmo que nós como indivíduos não possamos efetivamente proteger nossa própria privacidade de dados, ainda temos a obrigação de protegê-la. Como? Nos unindo aos nossos concidadãos enquanto atores políticos e defensores para impulsionar no setor privado e no setor público legislações e políticas que protejam a privacidade individual.
Agora vamos à sua questão sobre dignidade e prudência. Sou muito apaixonada por um caso jurídico no direito estadunidense que remonta a 1906. E este foi um caso que acabou se tornando o primeiro caso estadunidense em que um juiz decidiu explicitamente que existiria um direito à privacidade. O caso se chama Pavesich v. New England Life Insurance Co. e o juiz que escreveu o voto foi Andrew Jackson Cobb. Nesse caso, um homem branco, que por acaso era um artista – um mero fato incidental –, acordou um dia e descobriu que uma foto sua tinha sido usada por uma empresa de seguros em um anúncio de seguro de vida que apareceu no maior jornal da cidade de Atlanta, em Georgia, chamado Atlanta Constitution. O homem não havia concordado em ter sua foto usada no anúncio para seguro ou para qualquer outra coisa. Ele ficou chocado e horrorizado. E então ajuizou uma ação contra o jornal e contra a empresa de seguros. Dado os processos anteriores de natureza semelhante nos Estados Unidos naquela época, todo mundo esperava que ele fosse perder a ação, porque até então não existia direito algum à privacidade. Você só poderia ganhar uma ação se você tivesse uma teoria sob a qual pudesse vencer e não havia uma teoria para isso.
O Tribunal de Apelação do estado de Nova York havia decidido especificamente em desfavor de uma mulher que, há apenas alguns anos antes, ajuizara ação semelhante contra o uso não autorizado de uma foto em um anúncio, no caso Roberson v. Rochester Folding Box Co.. Mas Pavesich ganhou. E ele ganhou porque o juiz Cobb afirmou que o direito à privacidade é um direito natural básico. O juiz Cobb usou a teoria do contrato social para fazer valer seu ponto de vista. Ele disse que nenhum homem assinaria o contrato social a menos que este incluísse a proteção de sua privacidade. Esse tipo de argumento contratualista e orientado ao direito natural não era totalmente incomum em sua época, mas é interessante que tenha sido utilizado em nome do direito à privacidade. O juiz escreveu que quando a privacidade de uma pessoa é violada, a pessoa é, nesta medida, como um escravo de um mestre impiedoso.
Quando eu li isso pela primeira vez, pensei que era uma hipérbole. Você não pode comparar escravidão e invasão à privacidade; ter sua foto no jornal não é nada como ser um escravo. Mas com o passar dos anos vim a pensar que havia de fato um insight na ideia de que invasões à privacidade gradualmente erodem nossa liberdade de formas semelhantes a graus de escravidão. Uma diminuição da privacidade é uma diminuição da liberdade em um mundo em que uma foto sua pode ser tirada e usada para vender coisas contra a sua vontade ou sem seu conhecimento; em que há câmeras de vigilância por todo lugar que você anda na sociedade, em toda loja, no prédio do seu apartamento, na sua escola, no seu local de trabalho; em que seu empregador pode olhar o seu navegador e ver o que você tem feito durante o dia todo no seu computador; quando as chamadas de celular são monitoradas e os registros das chamadas do seu celular são dados à política; e em que coleta não transparente de dados, a análise de dados com um propósito determinado (data analytics) e a manipulação por práticas de dados direcionados são normalizados.
Cada tipo de diminuição da privacidade diminui a liberdade em geral e, no final, somos literalmente como escravos porque temos muito poucas escolhas sobre as coisas importantes em nossas vidas. O interesse pela dignidade que eu vejo na privacidade é mais ou menos isso, é o último suspiro contra a escravidão.
Se existe uma obrigação por parte dos seres humanos de tratar os outros e ser tratados com respeito, como fins em si mesmos e não como meios, temos um problema hoje tanto quanto no surgimento da tecnologia. Somos mais do que objetos – objetos do Google, do Facebook, do governo, da Apple, de nós mesmos, e assim por diante. Esse é o interesse pela dignidade que vejo que está em jogo aqui. Ao mesmo tempo em que as restrições em favor da privacidade podem ser justificadas por motivos de respeito, elas podem ser justificadas por motivos prudenciais. Estaremos possivelmente melhor em um sentido prático e maximizador de utilidade se os indivíduos puderem ser a primeira linha de defesa para proteger a própria privacidade.
Especialistas em privacidade por vezes diferenciam argumentos morais de que a privacidade é boa por si própria e argumentos prudenciais de que a privacidade é boa em virtude de outros bens que ela possibilita, como a não-discriminação ou o melhor conforto ao buscar serviços médicos, genéticos e jurídicos. Defesas prudenciais da privacidade podem ser mais fáceis de se transmitir nos contextos de debate legislativo e de políticas públicas, onde citar as perspectivas teóricas de Immanuel Kant ou Roberto Mangabeira Unger não funcionaria.
Fico contente que haja uma abertura na União Europeia para se falar de dignidade como um valor jurídico central. Em 2017, Giovanni Butarelli organizou uma comissão de ética para se debruçar sobre a necessidade ou não de se ter uma nova ética de proteção de dados e privacidade para a era digital. Esse grupo, que era liderado por um filósofo alemão, concluiu que a dignidade, não ultrapassada, continua sendo um importante valor central.
Gabriela Vergili (Data Privacy Brasil): Considerando a relevância da informação trazida à tona por Edward Snowden, quais são os dilemas éticos que enfrentamos atualmente? Com o que precisamos nos preocupar e como enfrentar esses problemas?
Anita Allen: Eu não concordo com Edward Snowden, mas em 2017 a EPIC fez uma cerimônia de premiação a Snowden e a mim na mesma noite. Não há dúvida de que a vigilância governamental é um grave problema em países de todo o mundo, dos Estados Unidos à China à Uganda. É uma questão ampla, universal.
Alguns tipos de vigilância envolvem a privacidade de formas muito importantes. Nem todo tipo de vigilância envolve privacidade de uma forma importante. A meu ver, se a loja de ferragens do setor privado onde eu vou comprar um martelo e pregos tiver uma câmera de vigilância de circuito fechado (CCTV) para impedir ou detectar roubos, isso não é nada demais. Mas se temos um mundo no qual de repente há câmeras conectadas a redes por toda parte e que são monitoradas pelo governo e têm tecnologia de reconhecimento facial, aí a história é outra.
Portanto, ao pensarmos em vigilância, temos que ter cuidado para pensarmos em que tipos de vigilância e agregações de vigilância são mais ameaçadoras para a privacidade. Vários tipos de coisa podem vir a afetar a privacidade, mas nem tudo o que afeta a privacidade é algo ruim. Temos que saber articular o que é que nos preocupa e de que forma a tecnologia de vigilância específica em questão afeta a privacidade.
Uma coisa é se preocupar com a questão de se o governo pode ou não colocar secretamente um dispositivo GPS no seu carro para descobrir por onde você esteve dirigindo; outra coisa é a questão de se o governo deve ou não ter acesso, com um mandado de busca emitido por um magistrado, aos registros do seu telefone para ver de quais torres de celular sua comunicação partiu. Essas são questões diferentes.
Não é útil tentar ter uma conversa ampla sobre “vigilância” em geral ou mesmo “vigilância governamental” ou “vigilância corporativa” em geral. Eu tenho idade o suficiente para ter vivido antes e depois de 1984. Quando eu li o romance de George Orwell 1984 na década de 60, eu fiquei aterrorizada com o espectro de um futuro no qual teríamos muito pouca privacidade e haveria burocracias de informantes e espiões. Mas depois das eleições de 2016, os Estados Unidos estavam sendo governados por um líder instável e com tendências fascistas e de grandiosidade, e a sociedade de vigilância havia se instalado.
Claramente, temos que criticar a tecnologia e seus usos pelo governo, e sair em defesa de usos responsáveis da tecnologia que reconheçam os interesses de dignidade e prudência que os indivíduos têm na privacidade. Ao mesmo tempo, temos que defender um governo que seja verdadeiramente não só democrático, mas democrático de maneira progressiva, a serviço de todos. Não temos isso no momento, pelo menos não no meu país [Estados Unidos].
Rafael Zanatta (Data Privacy Brasil): Gostaríamos de conectar a uma questão sobre os impactos do caso de George Floyd e sobre como o movimento Vidas Negras Importam (Black Lives Matter) estava envolvido também com os movimentos por direitos digitais, reivindicando a abolição das tecnologias de reconhecimento facial compulsórias nas cidades dos EUA. Especialmente porque ouvimos dizer que, em uma ou outra cidade dos EUA, policiais tiveram a ideia de usar a tecnologia de reconhecimento facial – que estava lá para combater a Covid-19 – para identificar os manifestantes que estavam nas ruas. E sabemos do seu envolvimento com a EPIC, como você mencionou no início da nossa conversa. Temos um argumento moral forte para banir o reconhecimento facial? Ou, como você vê o uso de tecnologia de reconhecimento facial para identificar manifestantes nos Estados Unidos?
Anita Allen: Os Estados Unidos aprovaram sua primeira grande Lei de Privacidade – chamada Privacy Act – em 1974. Em sua maior parte é uma lei sobre o acesso a registros do governo. Mas essa lei contém um dispositivo quase esquecido que diz que o governo federal não pode gravar ou fotografar uma pessoa enquanto ela exerce seus direitos constitucionais da Primeira Emenda. Isso não é incrível? Em teoria, nem o FBI, nem a CIA nem o exército poderiam registrar as pessoas exercendo seus direitos da Primeira Emenda.
A ideia por trás disso é perfeitamente clara: não se quer que pessoas que estejam expressando suas convicções políticas sejam punidas pelo governo por fazê-lo, de modo que se proíbe o governo de tomar registros. Infelizmente, essa lei não se aplica aos governos estaduais e locais, e são justamente governos estaduais e locais que dirigem os Departamentos de Polícia da comunidade.
Não existe nos Estados Unidos um direito de não ser fotografado ou gravado enquanto se está em um local público. E a ideologia é muito forte aqui no sentido de que não existe coisa alguma como um direito à privacidade em público. Helen Nissenbaum, e antes dela, eu, já argumentamos em artigos e livros publicados que deveria haver um direito à privacidade em locais públicos. No entanto, a visão majoritária esmagadora nos Estados Unidos entre agentes de segurança pública, governos locais e tribunais é de que não existe um direito à privacidade em público. Saiu de casa, vale tudo. O governo pode usar imagens de protestos públicos para identificar manifestantes e depois prender aqueles que possam ter se envolvido em atos ilícitos nos protestos, como derrubar o carro de alguém ou incendiar um prédio.
Mas as autoridades também podem usar gravações e fotos para identificar as pessoas que protestam pacificamente segurando a sinalização do Black Lives Matter (BLM). Tais imagens podem ser usadas para assédio ou intimidação. O uso da tecnologia de reconhecimento facial pela polícia já foi proibido nos estados de Oregon e Maine, e regulamentado em Massachusetts e em algumas outras jurisdições dos EUA. A maior objeção à tecnologia de reconhecimento facial é que a tecnologia não funciona bem em indivíduos de pele escura, levando a falsas correspondências. Mas também se objeta que a tecnologia de reconhecimento facial é uma invasão da privacidade e do repouso a que as pessoas têm direito.
Todo mundo ama a ideia de que a polícia pode colocar assassinos em série na cadeia usando tecnologia de vigilância com um mandado. Mas não amada por muitos é a ideia de que com o uso de tecnologias de vigilância os cidadãos negros comuns e seus aliados que participam de passeatas pacíficas são identificados e marcados como membros de grupos perigosos. A cidade de Portland, em Oregon, votou pela adoção de proibições à polícia e ao governo local quanto ao uso de reconhecimento facial. Por outro lado, há pessoas que querem virar o jogo e dizer: “o que realmente queremos é que nós, as pessoas, tenhamos o poder de usar a tecnologia de reconhecimento facial para identificar a polícia”. Então, enquanto estamos dizendo “vamos banir o uso pelo governo da tecnologia de reconhecimento facial, deveríamos também dizer “vamos incentivar seu uso pelas pessoas comuns, para manter o controle sobre policiais que, de outro modo, não seriam identificados”?
Em teoria, se um policial te para na rua nos Estados Unidos, eles podem dizer “me mostra seu documento de identidade” e “qual o seu nome?”, e pelas leis de “parada e identificação” você é obrigado a responder a verdade. Em teoria os policiais carregam consigo uma identificação e podem ser instados a se identificarem. Mas na prática sabemos que o policial nem sempre oferece reciprocidade aos cidadãos. Se testemunhas a uma abordagem policial estão com seus celulares, elas podem tirar fotos e então usar os recursos da internet para identificar quem é o policial. Ser capaz de fazer isso facilmente poderia ajudar a igualar o poder. O governo e a polícia teriam poderes semelhantes para usar a mesma tecnologia, um de maneira defensiva, outro talvez de maneira agressiva – ou talvez ambos seriam percebidos como defensivos.
Enquanto a discussão sobre a tecnologia de reconhecimento facial continua, temos que lembrar que cerca de 10 anos atrás estávamos discutindo sobre câmeras em viaturas da polícia por conta do perfilamento racial nas grandes cidades. As comunidades não-brancas [ex: negros, pardos, latinos, asiáticos] relataram frequentes blitz policiais baseadas no perfil racial, em vez de evidências de conduta ilegal e dados objetivos corroborando os boletins de ocorrência.
Muitas pessoas não-brancas e aliados disseram “vamos forçar a polícia a ter câmeras em suas viaturas e a filmar suas abordagens a fim de dizer se a polícia agiu razoavelmente ou não, se informou as pessoas sobre seus direitos e se demonstrou respeito a elas”. Depois de inúmeras abordagens policiais que levaram à morte de homens negros, houve um apelo às corporais. Vimos como a polícia tendo câmeras pode ajudar a proteger os cidadãos, bem como a polícia de acusações falsas.
Provas de câmeras corporais, assim como provas de celulares particulares têm ajudado a discernir infrações. [É verdade que] provas de câmeras estão longe de serem inequívocas. No entanto, foi graças aos cidadãos estarem com seus celulares que vimos exatamente o que aconteceu com George Floyd – por quanto tempo o policial obstruiu suas vias aéreas e com que tipo de intervenção dos colegas policiais e do público.
Vimos em grotescos detalhes gráficos um homem negro tendo sua vida tirada de si por um policial com o joelho em seu pescoço. Em outro caso famoso nos EUA vimos em vídeo dois vigilantes brancos atirarem e matarem um homem negro que estava se exercitando dando uma volta na rua por ele não ter respondido às suas exigências – suas exigências como cidadãos privados – de que o homem parasse e interagisse com eles. Atiraram nele e o mataram! Então câmeras e reconhecimento facial são uma faca de dois gumes, pode-se dizer. Eu pessoalmente não estou preparada para ver a tecnologia em si ser condenada, mas podemos pensar em formas melhores de usá-la de maneira responsável e efetiva.
Como aludido anteriormente, a tecnologia de reconhecimento facial aparentemente não é tão boa com pele marrom escura. Joy Buolamwini, uma afro-americana cientista da computação e ativista digital afiliada ao MIT Media Lab e fundadora da Algorithmic Justice League, mostrou que a tecnologia de reconhecimento facial é muito ruim quando se trata de distinguir dois rostos de negros. Eu gosto de ter a tecnologia de reconhecimento facial em meu telefone, [porque] francamente ela me ajuda a conduzir meus afazeres de maneira razoavelmente segura e mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, não quero que ela seja usada para ajudar a assediar ou prender pessoas injustamente.
Rafael Zanatta (Data Privacy Brasil): Temos questões muito semelhantes a essas aqui no Brasil. Também temos trabalhado nesse assunto de usos abusivos de imagem e tecnologia de reconhecimento facial, mais especificamente, tentando enfrentar as formas abusivas e não a tecnologia em si.
Anita Allen: Para mim, o grande problema da tecnologia de reconhecimento facial é que se ela for aperfeiçoada e utilizada pelo governo e pelo setor privado e pelos indivíduos, será o fim do anonimato. Penso que uma das formas mais importantes de privacidade em público que temos é o anonimato e se as pessoas não puderem cuidar das suas vidas sem serem identificadas, isso realmente afetaria o nosso senso de liberdade. Não poderíamos fazer certas coisas ou não ousaríamos fazer certas coisas que pudessem ser controversas em nossa família ou com nossos empregadores.
Nossa capacidade de levar uma vida livre e aberta ficaria significativamente enfraquecida se tivermos de abrir mão de todas as formas de anonimato por causa da tecnologia de reconhecimento facial.
Rafael Zanatta (Data Privacy Brasil): Temos visto alguns casos importantes como o caso jurídico de Ed Bridges, um ativista no Reino Unido, em que ele, enquanto cidadão, alega que a polícia não deve ter o poder de simplesmente usar reconhecimento facial de maneira ampla, na praça pública, por exemplo, porque o cidadão só poderia ter seu direito fundamental limitado se a polícia tiver uma justificativa para empregar essa tecnologia de maneira mais específica naquela área. A polícia não poderia simplesmente decidir usar a tecnologia de reconhecimento facial indefinidamente. Você acredita que temos esse direito de contestar e dizer “você não pode simplesmente usar isso [a tecnologia] enquanto Estado ou autoridade policial, mas somente de uma maneira específica por um dado período de tempo e com uma justificativa”?
Anita Allen: Nossa Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos protege a privacidade, mas também implica que, com um mandado de busca emitido por um tribunal fundado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, a polícia pode revistar e apreender pessoas e seus bens. Uma lei federal, a Lei de Privacidade das Comunicações Eletrônicas de 1986, Título I, exige mandados judiciais especiais e limita o escopo e a duração das intercepções individuais de comunicações eletrônicas e via fio, chamados de requisitos de minimização. Uma maneira de tornar o uso do reconhecimento facial pela polícia mais aceitável seria exigir melhorias na precisão da tecnologia e, mediante legislação, submeter seu uso a estritos mandados ou ordens judiciais e a requisitos de minimização.
Temos um caso jurídico nos Estados Unidos (o caso Kyllo) sobre usos constitucionais de imagens térmicas. A polícia usou dispositivos de tecnologia de imagem térmica sem mandado de busca para medir o calor que sai de uma casa na qual suspeitavam que alguém estava cultivando grandes quantidades de maconha. Com base na descoberta de que uma quantidade incomum de calor estava saindo da casa e outras evidências, foram feitas prisões e acusações. Neste caso, a Suprema Corte decidiu desfavoravelmente à polícia, sustentando que as autoridades têm que ter um mandado de busca antes de poderem usar imagens térmicas, devido ao seu caráter novo e suas implicações à privacidade. Essa é a ideia que eu acho que o caso britânico ao qual você se referia estava tentando chegar. Quando as autoridades desejam implantar uma tecnologia, especialmente quando essa tecnologia é nova, elas devem ser instadas a justificar seu uso e a atender aos requisitos de minimização.
Bruno Bioni (Data Privacy Brasil): Nossa última pergunta tem por base seu livro Why Privacy Isn’t Everything: Feminist Reflections on Personal Accountability, que traça um argumento teórico sobre a importância da prestação de contas (accountability) para enquadrar o debate sobre privacidade. Desde 2003, quando seu livro foi publicado, temos visto uma ascensão desse conceito na área. Encontramos esse princípio no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia – RGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados pessoais – LGPD brasileira, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE também vem fazendo o mesmo argumento. Acredito que quando você escreveu seu livro em 2003, criou um enquadramento teórico que nos abriu espaço para enquadrar de uma outra forma o que é privacidade e proteção de dados pessoais – não só como um direito, mas também como um dever a quem trata e usa dados pessoais. Atualmente, estamos vendo privacidade e proteção de dados pela lente de assimetria de relação e de poder. A quem caberá essa prestação de contas? E por que a prestação de contas é não só sobre transparência, mas também sobre como tratar dados, explicar e justificar intrusões?
Anita Allen: Esta é uma ótima pergunta final. Ela nos coloca exatamente onde estamos hoje, que é no meio de uma pandemia global na qual as pessoas estão levantando objeções em termos de privacidade às expectativas de que elas sejam responsabilizadas perante os empregadores e o governo por sua conduta, que em outra situação seria feita de forma privada, em relação à vacinação, ao uso de máscaras e ao contato com terceiros. A tecnologia de rastreamento de contato e verificação de sintomas está sendo necessária, mas encontra resistência por motivos de privacidade de dados e privacidade médica.
Não me perguntam com frequência sobre meu trabalho de accountability [responsabilização e prestação de contas]. O que eu tentei fazer no meu livro Why Privacy Isn’t Everything foi desenvolver um conceito de accountability inspirado na literatura feminista que jogasse luz sobre o fato de que profundos e ricos valores de privacidade na nossa cultura estão pareados com valores de accountability, igualmente profundos e ricos. Ambos existem em harmonia e em contradição na nossa sociedade. Não há nada em nossas vidas pelo que não possamos ser responsabilizados. Somos responsabilizados pelos nossos casamentos: não podemos casar com nossos primos de primeiro grau. Somos responsabilizados por sexo: não podemos fazer sexo com crianças menores de idade. Somos responsabilizados por como criamos nossos filhos: não podemos bater neles.
Assim como a privacidade é um bem frágil, a prestação de contas [accountability] também é um pouco frágil. Temos que ter certeza de que temos os tipos certos de prestação de contas. Não é nenhum segredo, as feministas dizem isto há anos: a privacidade pode ser uma coisa muito perigosa, pode levar a que as pessoas em suas casas sejam abusadas sem qualquer tipo de proteção ou escrutínio policial governamental, pode permitir fraudes na internet. A privacidade não é um bem incontestável. E a prestação de contas também não é um bem incontestável. Mas assim como não queremos usar a tecnologia como uma desculpa ou um convite para sermos excessivamente responsabilizados, não queremos usá-la para nos tornarmos excessivamente privados. É uma dança delicada. Não quero dizer que temos que “balancear” privacidade e prestação de contas, porque isso é uma ideia muito fácil. Mas precisamos de alguma forma continuar a valorizar a privacidade e a accountability, o que se estende não apenas à transparência, mas também à disposição de eventualmente se explicar, justificar e responsabilizar.
No contexto do Coronavírus, estamos sendo lembrados de que a prestação de contas pela saúde e decisões relacionadas à saúde não é irrazoável ou anormal. Apesar do interesse pela privacidade do nosso corpo e integridade corporal com milhões de vidas em risco, temos que aceitar a responsabilidade de tomar vacinas, usar máscaras, rastrear contatos e compartilhar nossos prontuários médicos. Toda vez que há uma catástrofe nacional ou global, há uma tendência a querer se livrar da privacidade e expandir a autoridade. Toda vez que há uma catástrofe nacional ou global, há uma tendência a querer se livrar da privacidade e expandir a autoridade.
É muito fácil “justificar” as invasões de privacidade diante do medo. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington provocaram mandados de busca “itinerantes” e a um aumento na comunicação entre a Agência Central de Inteligência (Central Intelligence Agency – CIA) e as autoridades de segurança pública. Temos que ter cuidado para poder voltar ao status quo ante de privacidade após as emergências. Não voltamos ao status quo ante com os ataques terroristas de 2001. Algumas dessas liberdades do governo para invadir permaneceram em vigor através da Lei Patriótica (Patriot Act). As pessoas estão realmente preocupadas neste momento com se as exigências de prestação de contas em matéria de saúde pública significam ou não o fim de importantes privacidades. Espero e acredito que não.
Veja também
-

Dadocracia – Ep. 141 | Consciência Negra, Griots e Tecnologias Digitais
Neste episódio, entrevistamos Thiane Barros Neves, que organizou ao lado de Tarcízio Silva o livro Griots e tecnologias digitais. Na publicação, Thiane e Tarcízio convidaram pesquisadores a escrever artigos relacionamento o trabalho de pensadores e intelectuais negros brasileiros consagrados à questões tecnológicas contemporâneas.
-

Data Privacy Global Conference 2023 started today
Data Privacy Global Conference, organized by Data Privacy Brasil, started this Monday (November 27th) in São Paulo, at the ESPM School.
-
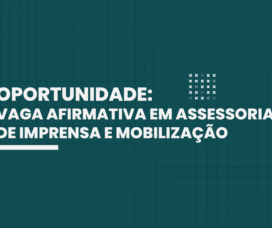
INSCRIÇÕES ENCERRADAS – Vaga Afirmativa de Assessoria de Imprensa e Mobilização
A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa torna público o edital com inscrições até o dia 12 de julho de 2023.
-

Data Privacy Brasil na CPDP 2023: um relato em duas partes
Saiba mais sobre um dos principais eventos globais do ecossistema da privacidade e proteção de dados, sob a ótica de quem acompanhou o debate bem de perto.
-
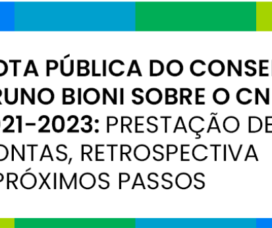
Nota Pública do conselheiro Bruno Brioni sobre o CNPD 2021-2023: Prestação de Contas, retrospectiva e próximos passos
Leia o relato de Bruno Bioni sobre sua atuação no conselho do CNPD
-

Eventos sobre proteção de dados em 2023 para ficar no seu radar
Confira a nossa seleção de eventos, no Brasil e no mundo, para marcar na sua agenda.
-

4 anos, um grande legado: Data Privacy Brasil e a História da LGPD
No próximo dia 14 de agosto, a Lei Geral Proteção de Dados fará 4 anos desde sua aprovação. Esse período (que passou voando) foi marcado pelo aprofundamento de uma cultura de proteção de dados, principalmente pela compreensão de que a proteção de dados é uma classe de direitos autônoma. Separamos alguns materiais que mostram esse legado impactante da lei.
Veja Também
-

Dadocracia – Ep. 141 | Consciência Negra, Griots e Tecnologias Digitais
Neste episódio, entrevistamos Thiane Barros Neves, que organizou ao lado de Tarcízio Silva o livro Griots e tecnologias digitais. Na publicação, Thiane e Tarcízio convidaram pesquisadores a escrever artigos relacionamento o trabalho de pensadores e intelectuais negros brasileiros consagrados à questões tecnológicas contemporâneas.
-
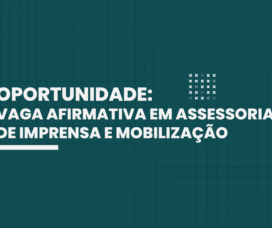
INSCRIÇÕES ENCERRADAS – Vaga Afirmativa de Assessoria de Imprensa e Mobilização
A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa torna público o edital com inscrições até o dia 12 de julho de 2023.
-

Data Privacy Brasil na CPDP 2023: um relato em duas partes
Saiba mais sobre um dos principais eventos globais do ecossistema da privacidade e proteção de dados, sob a ótica de quem acompanhou o debate bem de perto.
-
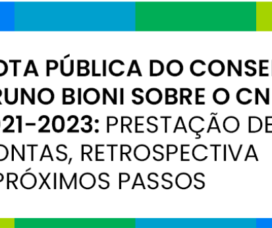
Nota Pública do conselheiro Bruno Brioni sobre o CNPD 2021-2023: Prestação de Contas, retrospectiva e próximos passos
Leia o relato de Bruno Bioni sobre sua atuação no conselho do CNPD
-

Eventos sobre proteção de dados em 2023 para ficar no seu radar
Confira a nossa seleção de eventos, no Brasil e no mundo, para marcar na sua agenda.
-

4 anos, um grande legado: Data Privacy Brasil e a História da LGPD
No próximo dia 14 de agosto, a Lei Geral Proteção de Dados fará 4 anos desde sua aprovação. Esse período (que passou voando) foi marcado pelo aprofundamento de uma cultura de proteção de dados, principalmente pela compreensão de que a proteção de dados é uma classe de direitos autônoma. Separamos alguns materiais que mostram esse legado impactante da lei.
-

Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa e TEDIC lançam relatório sobre vigilância na tríplice fronteira
Pesquisa buscou investigar o funcionamento do Centro Integrado de Operações na Fronteira (CIOF) e suas infraestruturas de guarda de dados
-

Dadocracia – Episódio 04 – De olho no COVID-19
A pandemia do Covid-19 mexeu no modo como o mundo se preocupa e reage ao desafio de balancear a proteção da privacidade e dados pessoais à necessidade de utilizar informações […]
DataPrivacyBr Research | Conteúdo sob licenciamento CC BY-SA 4.0

